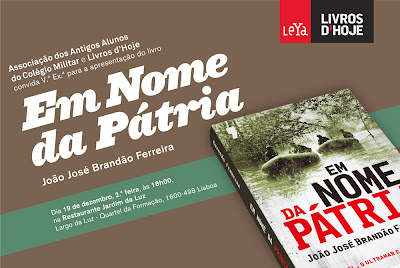João J. Brandão Ferreira
“Nesses anos, quando um soldado português desembarcava de um dos barcos da sua Nação para servir num forte em Moçambique, ou em Malaca, ou nos estreitos de Java, já previa, durante o seu tempo de serviço, três cercos, durante os quais comeria erva e beberia urina. Estes defensores portugueses contribuíram para uma das mais corajosas resistências da história do mundo.
” James Michener
” James Michener
(Escritor americano)
Em 2011 fez 50 anos que se deu início às actividades subversivas armadas em Angola (15 de Março) – que se estenderiam, em 1963, à Guiné e no ano seguinte a Moçambique – e que a União Indiana lançou um torpe ataque militar aos territórios portugueses de Goa, Damão e Diu (17-18 de Dezembro).
Meia dúzia de instituições nacionais e algumas (poucas) associações patrióticas evocaram os eventos então ocorridos. Os órgãos do Estado nada organizaram oficial ou oficiosamente e apenas se fizeram representar na cerimónia levada a cabo pela Liga dos Combatentes.
A crise economico-financeira não serve aqui como desculpa para este alheamento oficial, que se revela apenas e mais uma vez, como fruto da grave doença moral e ideológica e de sãos princípios nacionais portugueses, que a generalidade da classe política sofre e está imbuída.
Fizeram-se evocações mas nada se comemorou pois, de facto, nada havia a comemorar.
Não íamos, por um lado, comemorar um ataque que nos retalhou a carne e a fazenda durante 14 longos anos; do mesmo modo que não fazia sentido comemorar o fim do conflito que resultou no maior desastre político-militar da História Pátria, que deixa Alcácer Quibir a perder de vista. Não só pelo tamanho e implicações da catástrofe como pela vergonha e indignidade daí resultante: se lamentamos os 9000 mortos de 1578, não temos de chorar a sua honra nem envergonharmo-nos da sua derrota, pois lutaram como valentes e venderam cara a vida.
Por seu lado, as últimas campanhas ultramarinas da História de Portugal – único país verdadeiramente colonizador à face da Terra – e que foram as melhores conduzidas pelos portugueses (e exclusivamente por eles), desde o tempo do grande Afonso de Albuquerque, e de que estávamos a sair vitoriosos, vieram a acabar num tristíssima derrocada político-militar que culminou numa retirada abandalhada de pé descalço.
Aos portugueses que mantiveram a sua nacionalidade, seguiu-se uma deriva existencial sem norte cujas consequências estamos a sofrer e para as quais não se vê fim.
Para os portugueses que o deixaram de ser – sem ser por sua opção – o resultado foi ainda pior: resultou num conjunto de desgraças inomináveis de que resultaram cerca de um milhão de mortos.
Tudo isto foi responsabilidade (nunca apurada) de um conjunto de celerados políticos e militares e de uma vasta plêiade de ignorantes e ingénuos úteis, que foram ao ponto de assumir as (falsas) razões de quem nos emboscava as tropas e das mãos que os armavam, treinavam e incitavam.
Compreende-se, assim, que não haja nada para comemorar, o que não é a mesma coisa de se esquecer.
Os principais responsáveis dos crimes de lesa – Pátria, dividiram e empobreceram irremediavelmente o País, refugiaram-se nos partidos políticos, compraram consciências, imunizaram-se e continuam a tentar catequizar a opinião pública através do controle dos media, dos programas do Ministério da Educação e, até, de Fundações pagas com o dinheiro do contribuinte.
Só isto explica, por exemplo, que nunca ninguém se tenha lembrado de colocar uma queixa no Tribunal Internacional da Haia, por crimes contra a Humanidade – que não prescrevem – relativamente ao genocídio perpetrado pela União dos Povos de Angola (UPA) (e por quem a apoiou), contra a população branca, negra e mestiça, no Norte de Angola, em Março de 1961. Só quem não tem mesmo vergonha na cara se pode conformar com isto…
Já relativamente ao escabroso ataque da União Indiana contra o Estado Português da Índia - em que nem sequer tiveram a coragem e a decência de nos declarar guerra - se pode considerar em moldes e antecedentes completamente distintos da guerrilha que se desenrolou nos teatros de operações africanos, pois configurou um conflito clássico.
E a acção que a União Indiana desenvolveu pode-se considerar, por várias razões que não vou agora expor – muito mais grave do que a Indonésia fez em Timor, em 1975.
Não cabe aqui analisar o que se fez em conferências, reportagens, publicações e cerimónias, com que se evocou os eventos atrás mencionados, que se podem considerar enxutas e utilizando uma linguagem algo equilibrada, com excepção das bicadas na política do Estado Novo, já habituais, e que por norma confluem na sua principal figura política. Estiveram, porém, longe de focar o tema fundamental na análise dos eventos, isto é, de que lado estava a razão e a justiça.
Não queremos fugir a dizer que estava completamente do nosso lado (português), e não temos receio de o afirmar em qualquer parte do mundo.
Outra pecha das evocações foi não haver uma distinção clara entre a análise politico-estratégica do conflito e o estudo do comportamento das diferentes componentes do Poder Nacional: a diplomacia, a economia, as finanças, o comportamento social e psicológico da população e a componente militar. E dentro desta aquilo que foi conforme ao Dever Militar e o que não foi. Neste âmbito assiste-se até, reiteradamente, ao branqueamento de acções menos conformes àquele dever.
Apenas umas considerações para finalizar e sobre a ocupação militar de Goa, Damão e Diu, que ainda constitui uma chaga viva para muitos, não sendo por acaso que tendo o Exército há muito tempo constituído a Comissão para o Estudo das Campanhas de África, que já produziu mais de uma dezena de livros sobre Angola, Moçambique e Guiné (e continua a produzir), nunca mandasse constituir nenhuma Comissão sobre a Índia, não havendo uma única obra oficial…
Três pontos apenas.
• Costuma dizer-se que num conflito quer ele seja familiar, entre indivíduos, ou entre nações, existem razões, culpas ou responsabilidades de parte a parte; pois o conflito que opôs Portugal à União Indiana é excepção a esta “regra”, já que Portugal tinha a razão toda e a UI não tinha razão alguma!
Sendo assim, nós podemos discutir ou criticar o que o governo português, de então, fez quanto à melhor defesa dos nossos interesses, isso podemos; agora o que já não devemos fazer – por ser uma desonestidade intelectual – é passar a vida a condenar Salazar por ter cumprido o seu dever de salvaguardar as nossas gentes e património ao mesmo tempo que se desculpa o bandido do agressor.
• Existe uma contradição insanável quando se exaltam os militares portugueses cuja actuação foi conforme ao Dever militar – sobretudo os que se portaram com heroísmo – e, em simultâneo, se pretende branquear ou justificar o comportamento contrário.
• As parcelas portuguesas do Indostão, só não se podem considerar cativas, hoje em dia, porque um governo português, em 1974-1975, decidiu, aleivosamente, reconhecer de jure a ocupação militar (que só não foi condenada no Conselho de Segurança da ONU, porque a URSS vetou), sem que nada o justificasse. Uma decisão vil e indigna, que nos rebaixou e envergonha.
A mim, pelo menos, envergonha.
Passámos, desde então, a ser um país pequenino, governado por gente pequenina.